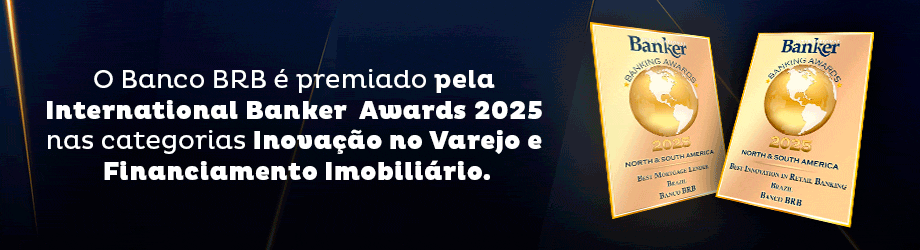O reconhecimento internacional da Rede Sarah se deve, em boa medida, aos multitalentos de Lúcia Willadino Braga. Em uma trajetória marcada por caminhos improváveis e quase aleatórios, a gaúcha de Porto Alegre foi decisiva para tornar o centro de reabilitação inaugurado em 1960, por JK, uma referência mundial na medicina e na gestão pública. Neta de alemã e de índio, musicista autodidata e de uma curiosidade insaciável, ela deve a Brasília o espírito inovador que marca seus projetos em neurociência. Em meio àquela utopia que nascia no Planalto Central naqueles anos pioneiros, Lúcia aprendeu cedo que era possível fazer tudo a partir do nada. “Todo mundo tinha que criar, e acho que isso me abriu uma proposta de criação”, diz. Com forte inovação e uma gestão de alto nível, marcada pela participação de todos os colaboradores, Lucinha — como é conhecida — representa o expoente de um modelo exemplar, diametralmente oposto à calamidade frequentemente diagnosticada na saúde pública nacional — inclusive no Distrito Federal. Nesta entrevista ao Correio, Lúcia, presidente da Rede Sarah, avalia que a ausência de uma filosofia e de um projeto de longo prazo são graves lacunas que impedem avanços no atendimento à população. E acredita que a solução para os hospitais está nas escolas: “Com educação você já melhora muitíssimo o nível de saúde.”
A infância numa cidade em construção influenciou sua trajetória?
Foi determinante. Mostrou que qualquer um pode fazer alguma coisa, se quiser, se você se empenhar. Isso me influenciou e me influencia até hoje. Não consigo ver que uma coisa é impossível. Vejo que há obstáculos que a gente supera. E outra coisa que me influenciou muito foi o plano educacional.
Onde você estudou?
O Anísio Teixeira e o Darcy Ribeiro criaram uma proposta educacional completamente inovadora e fomos cobaias. Mas foi uma maravilha ter sido cobaia disso. Estudei num lugar chamado Escola de Aplicação, que era um barraco de madeira, do lado do Elefante Branco. Isso no ensino de primeira a quarta séries. Nas escolas, não tínhamos que decorar nada. A ideia era ensinar a pensar. Não decorei nem a tabuada. Até hoje não sei e nunca me fez falta nenhuma. A ideia era aprender a pensar. E isso me influenciou muito.
Depois veio a ditadura…
Tinha uma coisa nas escolas que era um tanto quanto subversiva. Os professores diziam: “Olha, você não pode falar isso, mas tem que pensar aquilo”. Isso estava arraigado nos professores. O professor vinha, por exemplo, com Construção, do Chico Buarque, para debater. Havia um processo de politização. E quando entrei na UnB, em 1976, muito jovem, a ditadura ainda não tinha conseguido sufocar a universidade. E aí você podia fazer matéria em qualquer departamento.
Que curso?
Fiz música, psicologia. Fiz matérias de vários departamentos. Acho que sou uma autodidata, porque, olhando hoje o conceito de neurociência, vejo que desde muito cedo, nos anos 1970, venho buscando essa diversidade. Pensava que seria música porque, com cinco anos, aprendi a ler partitura sozinha e curti. Aprendi “n” instrumentos.
Qual é o preferido?
Gostei de todos. Aprendi regência com o Cláudio Santoro, na UnB, toquei piano, oboé, violino, flauta… Pensava que faria isso da minha vida, mas, quando cheguei à UnB, vi que tinha uma matéria sobre o desenvolvimento do pensamento da criança. Pensei: “É isso que me interessa…” Aí tinha matéria sobre neurologia. Achei muito legal. Comecei, então, a pegar as disciplinas e montar ideias na minha cabeça.
Foram os primeiros projetos?
No meio do segundo semestre, tive a ideia de desenvolver um projeto, numa bolsa de iniciação científica do CNPq, que era trabalhar parâmetros do som com as crianças com lesão cerebral para desenvolver o pensamento. Foi em cima da ideia de trabalhar o pensamento cognitivo. Esse projeto foi aprovado, super bem cotado. Eu tinha 19 anos. E aí me disseram que, se conseguisse um lugar para implantar o projeto, poderia executar. Deixei o projeto no Hospital de Base e no Sarah. De repente, o Sarah falou que poderia vir. Cheguei aqui, não tinha local para mim e muito menos material. Aí arrumei, dentro daquela ideia de que se você não tem, faz. Eles me deixaram guardar o material dentro do ar-condicionado. E trabalhava do lado de fora.
Conheceu Campos da Paz nessa época?
Ele me viu aqui, na enfermaria, tocando flauta. Fazia esse trabalho com as crianças. Ele achou curioso o projeto e me convidou para apresentar numa sessão clínica. Quando me formei, fiz seleção para cá e entrei no Centro de Pesquisa. E aí, já trabalhando aqui, fui fazer mestrado e doutorado, sempre em estudos sobre o cérebro. Depois, fiz pós-doutorado em ciências. Campos tinha essa abertura para o novo. Ele não se assustava.
Como você, que não se enquadra e busca sempre o novo, tem esse lado executiva? Isso se encaixa? São duas Lucinhas ou uma só?
Encaixa-se muito. É uma Lucinha só. Da mesma forma que posso criar um novo método de tratamento, posso construir uma organização do trabalho, posso construir um hospital. Então, é uma coisa gostosa. Bem novinha, já tinha essa facilidade de organizar as coisas e as pessoas. Tanto que assumi a chefia da área de lesão cerebral com 22 anos. Assumi a coordenação porque a própria equipe pediu. Organizava bem. Você pode ser criativa na gestão. Combina bem. A gestão não precisa ser pesada, burocratizada. Então comecei no setor de lesão cerebral infantil. Depois, no setor de lesão cerebral como um todo, coordenei praticamente todos os programas do Sarah. No fim, nos anos 1980, era gerente de reabilitação. Tudo sobre reabilitação era comigo.
O fato de não ser médica prejudicou? Sofreu preconceito?
Nunca senti preconceito porque nunca tentei ocupar o espaço de ninguém. Muitas pessoas falam: “A dra. Lúcia não é médica”. É comum ouvir isso, mas não incomoda porque acho natural que as pessoas pensem que, para ser diretor de hospital, precisa ser médico. Então, por mais que diga que não sou, volta. É recorrente. Mas não me afeta porque nunca quis ser médica.
Teria feito o curso, se quisesse…
Passei no vestibular com uma das maiores notas da UnB. Meu sogro era médico e ele queria muito que fizesse medicina. Só fiz matérias que me interessavam, estudei anatomia e outras. Gosto de aprender e faz muito bem para o cérebro.
Por que é tão difícil adotar um modelo de sucesso como o do Sarah na saúde pública?
Tem muitos fatores. O Sarah tem alguns diferenciais. Por exemplo, a gente tem uma filosofia. Todo mundo vem para uma seleção pública, faz um treinamento para igualar princípios filosóficos. Trabalhamos com dedicação exclusiva. Então, um grupo pequeno de profissionais pode dar um atendimento de qualidade. Muitos hospitais nos procuraram querendo fazer igual. Mas muitos dizem que dedicação exclusiva não dá. Aí começa a não dar certo.
São bons salários para dedicação exclusiva?
São salários dignos. Para ter um bom profissional, não posso pagar uma miséria, porque ele não estará aqui. Mas o que a gente vê lá fora é que o trabalho de um é dividido por quatro pessoas, cada uma fazendo algumas horas. A organização do trabalho é muito importante. Há também um diferencial nosso em termos da gestão de materiais. Muitas unidades têm o tomógrafo, mas está quebrado; têm a agulha, mas falta a linha; têm o cirurgião, mas falta o anestesista. Em saúde, não pode faltar nada. Isso não é uma questão de custo. É uma questão de planejamento. Claro que se paga por tudo o que se utiliza, mas não deixamos as coisas perderem a validade, não deixamos as coisas no estoque e conseguimos planejar. Isso em saúde é fundamental.
Falta de medicamentos e má utilização de equipamentos são grandes problemas da saúde pública…
Sim, na falta de planejamento, a pessoa manda comprar um equipamento e não tem onde instalar. Como vou comprar uma ressonância sem ter onde instalar? Outra coisa fundamental é manutenção. Estamos num prédio de 1980 e aqui não tem nada quebrado. Não fica nada quebrado nenhum dia. Aqui trabalhamos também com o princípio da economicidade. Não somos donos do Sarah. O dono do Sarah é o povo brasileiro. Essas responsabilidades, essa consciência, esse cuidado com o bem público são muito fortes na nossa filosofia. Ninguém deixa uma luz ligada; a gente usa iluminação natural, ventilação…
Tem muito rigor?
Sim. Mas quem não se adapta vai embora. Não aguenta. Aqui ninguém é mais importante do que ninguém. O médico não é mais importante, como a gente vê por aí. A pessoa que limpa o chão faz uma seleção pública, recebe treinamento que passa por um olhar no microscópio. Passa por uma filosofia. Ele sabe que precisa limpar para retirar as bactérias. Com isso, temos a menor taxa de infecção do mundo. Esses profissionais de higiene são profissionais de saúde.
Usar organizações sociais na gestão de hospitais é uma saída?
Depende das instituições contratadas. Já houve uma experiência em Brasília que não deu certo. As organizações sociais surgiram como espelho do Sarah. Só que a gente tem essas peculiaridades que vão desde o treinamento de um auxiliar de higiene até os profissionais de saúde. A gente tem, por exemplo, um programa muito legal, que se chama Paciente por um dia. O pessoal novo se coloca como tetraplégico, paraplégico, afásico (não fala), e os outros colegas vão tratar dele. Alguém vai alimentar, vai ver o ritmo… Isso dá um outro olhar, mais humano. Temos uma perspectiva humanística. Quando se pergunta a um ortopedista: “O que você olha num paciente?” Olhe o olho.
Então, depende mais de uma filosofia de trabalho?
De uma filosofia e de um modelo de trabalho. Tem que ter o modelo, desde a gestão dos recursos humanos; precisa ter os profissionais trabalhando com prazer. Assim é também no tratamento, precisa ser prazeroso para os pacientes. Desenvolvemos um método que se chama neuroreabilitação ecológica. Se você não pode tirar uma pessoa do hospital para a vida, então tem de levar o hospital para a vida. Um exemplo: as pessoas remando no lago, no Sarah Lago Norte. Lutei muito para construir aquela unidade. Enfrentei muita oposição. Só faltavam me matar.
Por que um hospital na beira do lago?
Justamente pela possibilidade de fazer coisas mais lúdicas, de ter um visual mais legal, um espaço aberto. A pessoa fica paraplégica e precisa de braços muito fortes. Quando ela vai se transportar da cadeira para a cama, para o carro, usa todo o peso do corpo no braço. Se você botar a pessoa para carregar um peso, vai encher a paciência dela. Se você coloca para remar, é muito mais interessante. Para quem precisa trabalhar o equilíbrio, velejar é muito melhor. São coisas assim que temos feito.
Como foi o trabalho de envolver a família nos tratamentos?
Em 2005, escrevi um artigo em que comprovei que a participação da família propicia um tratamento muito melhor.
Hoje em dia, nos hospitais, quando alguém está em fase terminal, cada vez mais o médico comanda o destino daquele paciente longe da família. Acha correto?
Isso é muito prejudicial. Em paciente em estágio terminal, a gente tem que ter uma linha de cuidados paliativos de dar conforto, tranquilidade, amor. Tive que provar para a comunidade científica, com dados estatísticos, que amor faz bem. Parece surreal. Já diziam os Beatles: “All we need is love”.
Foi difícil provar essa tese?
A comunidade científica não aceitava. Quando comecei a trabalhar no Sarah, a família não entrava, ficava do lado de fora. Vinha o paciente para tratar, a mãe ficava do lado de fora. Dizia: “Isso não vai dar certo. A mãe passa 24 horas por dia em 365 dias por ano com o filho. Ela tem muita informação para dar.” Não tive dúvidas: peguei meu tapete e coloquei do lado de fora do hospital. Comecei a atender as famílias. Dava um resultado incrível. Mas, quando comecei a apresentar isso, tive que quebrar um tabu muito forte. Ouvia: “Eu sou a fisioterapeuta, como a mãe vai fazer os exercícios?”; “Eu sou a fonoaudiológa.”… Achava que tudo aquilo poderia ser ensinado para as famílias. Peguei um grupo tratado durante um ano com a participação da família, e um outro grupo sem a participação. Quem teve a família foi muito melhor. Provei que a variável mais importante para uma criança melhorar é a afetiva. É o amor.
A criança se sente mais segura?
Quem mais quer o bem dessa criança? Quem ensina uma criança a andar? Não é o fisioterapeuta. É a mãe, a família. Quis devolver à família o papel natural. Quando comecei a falar sobre isso fora do Brasil, também me deu muito problema. Hoje a família é muito bem-aceita. Publiquei um livro que ensinava tudo com desenho, a fazer estimulação motora, cognitiva, da linguagem…
Que imagem o Sarah tem lá fora?
Hoje, o Sarah é um dos modelos mais reconhecidos em reabilitação no mundo. Esse método da família é usado em muitos países. Fui convidada no ano passado até para inaugurar um hospital na Holanda, em Haia, que usa basicamente os métodos que desenvolvi. Hoje recebo visitantes para treinar aqui. Vem gente da Noruega, da Suécia, dos Estados Unidos, da Inglaterra, França, Dinamarca, África do Sul… Temos projetos de colaboração com vários centros do mundo.
Não é um reconhecimento fácil…
É uma coisa que se constrói no dia a dia. Nunca coloquei isso como meta, mas sempre quis mostrar que esses métodos eram importantes. Nos últimos 20 anos, sempre sou chamada para abrir congressos. Amigos meus, que começaram a trabalhar comigo, de outros países, brincam: “Pôxa, você, a menorzinha de nós, latino-americana, mulher, é a convidada especial”.
Nesse período, sentiu preconceito lá fora?
Teve momentos em que senti. Essa questão da família enfrentou muita resistência. Uma vez fui falar em Curitiba sobre a importância da família e as pessoas se levantaram no meio da fala, em protesto.
Existe muita arrogância na ciência?
Existe. Alguns franceses acharam legal meu projeto da família, alguns alemães também. Mas nem todos. Tinha um amigo alemão, que me tratava muito bem, mas nunca comentava as pesquisas com a família. Uns anos depois, ele me liga: “Meu filho sofreu um acidente de carro e teve uma lesão cerebral. Estou me sentindo excluído. Só agora entendi seu lance com a família. Quero levar meu filho para você tratar, e fazer parte do tratamento”.
E a vaidade no mundo científico?
Há uma vaidade intelectual. Mas tem um lado na ciência: tudo você precisa comprovar. Como provei, com todas as estatísticas, com amostra grande, vários estudos com ressonância magnética funcional em que se mostra dentro do cérebro da pessoa, então não há um questionamento. Aí você publica esse estudo na Science, a comunidade científica acolhe, segue e tenta dar um passo à frente. Então hoje tem menos esse embate.
Como está a saúde hoje no país?
É um momento muito difícil. O país é muito grande. Garantir qualificação, qualidade, a distância… Seria necessária a formação de gestores em saúde. Ser um bom médico não significa ser um bom gestor. Mas a gestão de materiais e a manutenção do sistema são complexas. E é isso que a gente vê muito nos escândalos: falta remédio, equipamento parado. A saúde só vai mudar se a educação mudar. Minha sensação é de que o país precisa investir em educação. Com educação, você já melhora muitíssimo o nível de saúde. Uma coisa que já discuti com alguns governos: por que não se coloca no fim do ensino médio disciplinas de enfermagem, de medicina? Com um ano de formação mínima, haveria muito menos procura de pronto-socorros. Haveria muito mais ações preventivas.
Para não sobrecarregar o sistema?
Isso. A pessoa vai saber quando a situação é grave e que precisa correr para o pronto-socorro ou se pode esperar. Essa noção básica se resolve com educação. Os países que fizeram as grandes mudanças pensam nos próximos 20 anos. Veja o que era a Suécia antes de investir em educação: a pobreza, a miséria, a prostituição, o alcoolismo… E o que é a Suécia hoje, e os países escandinavos.
Mas, aqui no DF, se resolve como? É educação, gestão?
É gestão. Uma coisa que tenho informação, que me foi dito pelo próprio Rollemberg, é que tem um número muito grande de médicos na administração. Não tem nenhum médico na gestão da rede Sarah toda. E ninguém faz só gestão. Faço gestão, faço pesquisa e atendimento de pacientes. O gestor que não for para a base não sabe o que está acontecendo. Se eu não for ao meu ambulatório, à minha enfermaria, vou ficar fazendo o que aqui? Ficar de rainha da Inglaterra? E o que faz esse tanto de gente, esse tanto de médico? Por que estão na administração e não na frente? Por que não se monta um sistema de compra de material que seja minimamente planejado? Por que quando se compra um equipamento não se contrata a manutenção? Não dá para ter uma visão imediatista. Essa ideia de pensar o país a longo prazo é o que falta. É como aqui no GDF.
Qual é a solução?
Deveria se pensar assim: vamos virar a mesa e partir do zero. Vamos construir uma coisa nova? O que sinto dos sucessivos governos são remendos para dar conta durante alguns mandatos.
Seria uma mudança estrutural?
Isso. Parar tudo e ver quem está fazendo o quê. Quem vai cuidar do quê… Eu, que já fiz tantos hospitais, acho tão simples. Olhar o problema de frente, encarar. Ter a participação das pessoas. Esse também é um problema. Você não pode fazer uma gestão que não seja participativa. Não posso dizer: agora sou a secretária de Saúde e vocês vão fazer assim. Ninguém vai fazer porque quero, mas porque acredita. Passaria por uma revisão geral. Vamos construir juntos. Uma coisa muito complicada é ficar se queixando, dizendo que não pode fazer porque não tem condições. Então, descola. Providencia. Briga por isso. Se houver uma boa intenção, você vai conseguir ajuda.
Já foi convidada para ser ministra?
Fui convidada por três diferentes presidentes. Fui convidada para ser secretária de Saúde do DF, mas a estrutura política do Brasil é muito difícil. Tem a coisa da divisão partidária. A vida toda trabalhei com profissionais concursados. Acho complicado esse universo criado pelos políticos de indicar determinado profissional porque tem ligação partidária, política. O cargo de ministro é político. Não é um cargo de gestor público e o meu cargo aqui é de gestor público, de responsabilidade enorme e com cuidado muito grande dos recursos públicos. Nunca tivemos nenhum questionamento do TCU nem da CGU. Se for tudo no preto e no branco, não tem questionamento.
Na hora de pedir recursos do orçamento, há dificuldades?
A gente tem sempre um apoio muito grande da bancada do DF, de todos os partidos. Os grandes aliados do Sarah são as pessoas que nele se tratam. Os parlamentares são eleitos pela população e a população está satisfeita. O nível de satisfação do paciente do Sarah, na última pesquisa, foi de 98,3%. Quando a gente pede uma emenda, não enfrenta dificuldades. E aqui a gente não faz nenhum tipo de diferença partidária ou religiosa.
O aparelhamento político atrapalha?
Atrapalha, mas em que ministério é diferente? Acontece em todo o sistema político.
Na saúde, o peso de indicações políticas não é maior?
Saúde e educação são áreas que não deveriam ter influência política. Se fosse ministra da Saúde, teria de brigar muito. Não iriam me querer em três meses. Logo me dariam alta. Temos que viver para a saúde e não sobreviver da doença.
Como é sua relação com os pacientes?
Sou contra distanciamento. Eu beijo, abraço, gosto. Defendo o envolvimento. Meus pacientes vão se tornando meus amigos. Você comemora cada vitória. É muito bom ver que a pessoa está melhorando e você melhora junto. A gente se “co-constrói”.
Com as derrotas, você acaba sofrendo também?
Não acredito em derrota. Tudo depende do objetivo a ser alcançado. Não posso querer que uma pessoa que comprometeu toda a medula volte a andar. Não posso considerar uma derrota não a fazer andar. Tenho que trabalhar com ela um objetivo que lhe dê qualidade de vida, e a gente vai comemorar muito, a gente vai curtir.
Muitos pacientes chegam com a esperança de cura. Como dizer a eles que nunca mais vão andar?
Acho natural que as pessoas venham com a expectativa acima da realidade. Acontece. Você não pode tirar a esperança de ninguém, mas também não pode alimentar expectativa falsa, porque reversão de expectativa é que causa sofrimento. Acontece assim: a pessoa vai conversar com outras que têm o mesmo problema. Aí, ela começa a digerir. Quando a pessoa está pronta para perguntar ao médico, ela pergunta. Não é preciso antecipar. Trabalho muito o seguinte: o que você tem, e não o que você não tem. Se você gosta de esportes, não pode ser um campeão de corrida, mas pode ser um campeão de remo. Existem “n” possibilidades. O caminhar é mais importante para as pessoas que não têm problema do que para as pessoas que têm. Se você não andar, mas souber contornar isso, será feliz, como a gente vê em milhares de paraplégicos, tetraplégicos, hemiplégicos.
Têm ocorrido muitos acidentes de trânsito por uso de celular?
Demais. É impressionante. Antes os problemas de trânsito eram causados por bebida alcoólica. Hoje são principalmente causados pelo celular. É aquela ideia de que você vai ganhar tempo. Na verdade, acaba perdendo um tempo enorme. Passar meses e anos se reabilitando. É um filme que não volta.
Vocês ainda têm programas de orientação para jovens?
Sim. Temos um programa de prevenção que é muito legal. A gente começou pensando em jovens do ensino médio próximos de tirar a carteira. Mas aí descobrimos o óbvio: adolescentes contestam os adultos. Então baixamos a faixa etária para um pessoal bem novinho, porque a criança chega em casa e fala: “Ah, pai, se não botar o cinto, não vou”.
Como fazer com que as pessoas tenham cuidado?
É interessante essa questão da prevenção: ninguém chega e fala: hoje vim me prevenir de um câncer ou de uma lesão na medula. Viável é convidar as escolas para uma visita. É o espaço da educação. Aí você vai trabalhar a formação das crianças. Seria muito legal que as crianças tivessem essa formação. A prevenção passa por aí.
Como enxerga a educação hoje no país?
É preciso investir mais na remuneração do professor. Acho impressionante que não se veja o valor desses profissionais. E investir no ensino fundamental. Um ensino fundamental de qualidade muda muito a realidade. O resto é consequência.
Há situações em que você não acreditaria que o paciente chegaria lá?
A gente nunca acha que a pessoa não vai chegar lá. A questão é construir dia a dia. Sempre se pode dar um passo a mais. Talvez seja um passo diferente, por outra via. O importante, em recuperação e reabilitação, é comemorar cada passo. Cada melhora é uma melhora.
E quanto à força de vontade do paciente?
É fundamental. Quando recebo algum paciente adulto, com uma lesão cerebral mais grave, falo: “Quer melhorar? O mais importante para melhorar é querer. Senão não vai ter como fazer nada, nem sua família, nem ninguém. A pessoa é responsável pela própria saúde.
Vocês atendem de celebridade e político a pessoa comum. O tratamento é padrão?
É absolutamente igual. Aqui não há infecção social. A família chega, toma um banho e veste um uniforme. Isso é para evitar infecção hospitalar e infecção social. A roupa que o acompanhante da celebridade vai usar é a mesma do acompanhante do paciente em uma situação econômica mais precária. Os pacientes usam o mesmo uniforme, o mesmo tratamento, a mesma enfermaria, comem no mesmo refeitório, a mesma comida. A pirâmide socioeconômica do Sarah é igual à do Brasil. Aumentou a classe C no Brasil, aumentou no Sarah. O acesso era todo por telefone, agora é pela internet. O que a gente tem, diferentemente de outros hospitais públicos, é muita busca de pessoas que poderiam pagar. Porque elas buscam a qualidade.
O índice de satisfação com o Sarah é alto. Mas há quem critique porque não consegue consulta. Por quê?
Aí depende. Muitos casos a gente não atende porque as pessoas não têm noção do trabalho do Sarah. Acham que aqui trata fratura. E aqui não trata fratura. O acesso é tranquilo. Entra no site, escolhe a unidade. Você vai ver, por exemplo, que não há ortopedia e neurocirurgia em Fortaleza. Foi definido assim. Tudo é dentro de uma única perspectiva, mas alguns têm especialidades que outros ainda não têm. Tudo isso passa pelo governo federal, porque todos os nossos recursos são públicos.
A arquitetura tem um peso fortíssimo em todos os Sarah. Tudo tem a mão do Athos e do Lelé. Você enxerga os dois?
Isso é uma coisa maravilhosa. Até outro dia comentava… Éramos quatro pessoas muito ligadas: eu, Campos da Paz, o Lelé e o Athos. Sempre fui a caçula da turma, hoje só fiquei eu. O arquiteto não faz um hospital se você não tem um bom programa. E um programa de reabilitação não funciona se não há uma boa arquitetura. Se tivéssemos cubículos, não conseguiríamos fazer um atendimento humanizado. Então adotamos alguns princípios: abertura com a natureza, ventilação natural, iluminação natural, espaços amplos e abertos, multidisciplinariedade. Isso tudo faz parte de um programa de reabilitação. A filosofia do Sarah também se sustenta na arquitetura. Ninguém tem o seu consultório, em nenhuma unidade da rede. A gente divide boxes.
Não foram projetados?
Exatamente. Não temos computadores pessoais. Achei estranhíssimo quando vim para a diretoria — não queria vir. Não tenho talento para ficar em gabinete. Gosto de trabalhar do lado de fora. Quando vim para essa sala e vi que podia abrir a porta e botar uma mesa do lado de fora, carreguei a mesa para a grama e comecei a trabalhar. A arquitetura foi toda pensada assim: os elementos do Athos sempre conversaram com a arquitetura do Lelé. Isso a gente ensina também na formação dos profissionais do Sarah. Ninguém cola um Mickey Mouse em cima de uma peça do Athos. Lelé e Athos tinham uma conversa muito gostosa para cada hospital. Os azulejos do Sarah de São Luís, Athos pensou de maneira diferente, porque é uma cidade com tradição de azulejos. No Sarah centro, o Athos começa com o painel marrom, o painel verde. Você chega ao Sarah Lago, ao Sarah Fortaleza, explode em cores. Um dia falei ao Athos: “Você começou fazendo o Teatro Nacional todo branco… de repente explodiu em cores. Como foi isso?” Ele respondeu: “Lucinha, fiquei velho, perdi a vergonha” (risos).
Que influência tiveram na sua vida?
Tive oportunidades e estou tendo ainda de conhecer pessoas interessantes. Estou sempre muito aberta a aprender, a ouvir o outro. Aprendi muito com Campos, com Lelé, com Athos… Tinha outras pessoas também. Jorge Amado, Zélia Gattai, Millôr Fernandes, pessoas de uma sabedoria.
Do que mais sente falta de Campos da Paz?
Do humor. Na vida diária, a gente tinha uma relação muito próxima. Teria idade para ser filha dele. E um dia ele me falou: “Engraçado, as pessoas pensam que você é tipo minha filha, mas você é tipo minha mãe” (Risos). E é verdade. Porque ele era muito impulsivo. E eu dizia: “Não, não pode, se comporte!” A gente tinha essa liberdade.
Ele disse uma vez sobre você: “O professor se realiza quando descobre que o aluno é melhor que ele”.
Ele botou isso no livro dele. Falei para ele: “Não bota isso não”. Sou do tipo low profile.
Trabalha quantas horas por dia?
Quantas horas for preciso. O envolvimento que a gente tem vem da paixão pelo trabalho. Deve ser muito triste uma pessoa trabalhar numa coisa de que não gosta. Morreria. A gestão me dá prazer. Acho muito gostoso organizar as coisas, ver o resultado e envolver as pessoas. É preciso pensar junto, porque a conquista é do grupo. Aqui todo mundo é muito preocupado em não rasgar o papel, de imprimir um papel que não precisa, de sair e deixar uma luz acesa.
Como cortar gastos e manter bons salários?
Há 15 anos, cortaram muito o nosso orçamento. E os preços subindo. O dinheiro estava limitado e o salário, uma porcaria. Falei: “O salário da gente está ruim, não está? Também acho, porque também sou funcionária. Se todo mundo diminuir o custeio, dá para aumentar o salário”. Imediatamente todo mundo fez uma economia enorme no custeio e reverteu em salário no mês seguinte. Mas a gente sabia que tinha de manter. E até hoje temos essa filosofia.
Como você enxerga a crise no país?
A gente não pode se deixar levar pelo baixo astral. Tem tanta gente batalhando por alguma coisa boa… Tudo passa se a gente resolver cooperar para que as coisas sejam superadas.
E o teatro do Sarah? Os pacientes frequentam?
Sempre achei legal trazer arte para dentro do hospital. Logo que vim para cá, trazia filmes, uns amigos da Escola de Música para tocar. A gente ia fazer um barulho lá fora. Quando resolvemos ampliar o auditório, fizemos um que serve também de teatro. É um espaço com acessibilidade. Os pacientes adoram. Tem gente que vem de maca, tomando quimioterapia. Já falo logo para os artistas: se alguém sair, não é nenhuma crítica (risos). E agora comecei a perceber que diminuiu muito o uso de analgésicos, porque você levanta o astral das pessoas.
Fonte: Correio Braziliense